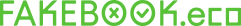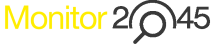Passamos 1.5ºC?
Entenda o estudo que causou polêmica ao sugerir que limite do Acordo de Paris já teria sido rompido antes mesmo de sua adoção
DO OC – Um estudo publicado nesta segunda-feira (5) no periódico Nature Climate Change sugere que a meta do Acordo de Paris de estabilizar o aquecimento global em 1,5oC pode ter sido perdida antes mesmo de sua adoção: a Terra já estaria hoje 1,7oC mais quente do que no período pré-industrial e, nos próximos anos, poderia ultrapassar os 2oC. Se confirmadas, as conclusões dos cientistas significarão que, para evitar que a crise do clima leve a civilização ao colapso, será necessário antecipar e radicalizar o objetivo de atingir a neutralidade em carbono em 2050. Mas o trabalho causou controvérsia na comunidade científica e entre os comunicadores de clima. Entenda por quê:
O que diz o estudo?
Em seu sexto relatório de avaliação, o AR6, publicado em 2021, o IPCC, o painel do clima da ONU, concluiu que o sistema climático terrestre já aqueceu 1,2ºC desde o início da Revolução Industrial até o fim da década passada. As medições diretas de temperatura da Terra estão disponíveis desde 1850, e o IPCC lança mão de várias bases de dados e modelos computacionais para chegar a suas estimativas.
O novo estudo foi feito por um grupo da Austrália, dos EUA e de Porto Rico, liderado por Malcolm McCulloch, da Universidade do Oeste Australiano. Ele afirma que o IPCC errou a conta por 0,5ºC, com base em um instrumento inusitado: esqueletos de esponjas calcárias de 300 anos de idade coletadas no mar do Caribe. A Terra estaria 1,7ºC mais quente em 2022 (o aquecimento extraordinário do ano passado não entrou na análise) e, no final da década, romperia o limite de 2ºC.
Há décadas os oceanógrafos usam a variação da proporção entre átomos de estrôncio e cálcio depositados nas carapaças dessas criaturas enquanto elas crescem como uma medida indireta da temperatura da água de ano a ano. Esse “termômetro” é calibrado com outras medições, como termômetros de verdade, e permite uma boa aproximação da temperatura real.
McCulloch e colegas reconstituíram a série de temperaturas gravada nas esponjas desde 1700 e concluíram que, entre a invenção da máquina a vapor por James Watt, nos anos 1770, e as primeiras medições com termômetros, o mundo já havia sofrido um aquecimento importante, que não entrou na definição de “temperatura pré-industrial” usada pelo IPCC. Seria, portanto, necessário aplicar um “ágio” às medições atuais, para embutir o aquecimento “esquecido” e subestimado dos séculos 18 e 19.
Então já ultrapassamos o limite de Paris?
Pode ser, mas é preciso tomar o estudo com um grão de sal. Primeiro, ele se fia em um único indicador, e ainda por cima indireto. McCulloch e colegas afirmam que o termômetro interno das esponjas bate com outras bases de dados da temperatura oceânica mais recente, portanto não há razão para duvidar do registro mais antigo das mesmas criaturas. Mais estudos serão necessários para que o IPCC possa admitir a nova medida em seus relatórios de avaliação.
Mesmo se o novo estudo estiver totalmente errado, tudo indica que em 2023, graças à combinação entre aquecimento global e El Niño, nós já atingimos um aquecimento global de 1,5ºC – segundo o Berkeley Earth, 1,54oC. Mas é importante não confundir a ultrapassagem no ano passado (que pode se repetir neste ano) com o temor dos cientistas climáticos. Assim que o El Niño acabar, a Terra deve voltar ao patamar de 1,2º C a 1,3ºC e só romper definitivamente a barreira do 1,5ºC no final da década.
Mas isso é normal em ciência. Qual é a polêmica?
Pesquisadores altamente influentes na esfera pública na Europa e nos EUA correram para criticar não a metodologia ou seus resultados do trabalho, mas a maneira como eles foram comunicados. Em entrevista ao site The Carbon Brief, pesquisadores como Friederike Otto, do Imperial College de Londres, e Richard Betts, do Met Office britânico, afirmam que a maneira como os dados foram apresentados é “enganosa” e causa “confusão desnecessária” ao debate climático. Veículos de comunicação importantes nem sequer cobriram o novo estudo, que saiu com destaque no periódico Nature Climate Change. Seus críticos afirmam que o IPCC define como “pré-industrial” o período entre 1850 e 1900; portanto, se houve aquecimento antes disso, mesmo que em parte causado por seres humanos, ele seria pouco relevante para fins de atingimento da meta do 1,5oC.
O temor implícito é que esse tipo de pesquisa produza desengajamento no público: afinal, se já perdemos a meta de Paris, para que continuar lutando para reduzir emissões?
Faz sentido, não?
Não. Mesmo se tivermos ultrapassado 1,5ºC, 1,7ºC de aquecimento é menos ruim que 1,8ºC, que é bem menos ruim que 2ºC, e assim por diante. Cada tonelada de carbono reduzida ou evitada significa vidas salvas e prejuízos mitigados. Dado que não existe dose segura de aquecimento global, perder uma falange é bem diferente de perder o braço inteiro.
Mas, afinal, é importante saber qual foi o aquecimento no começo da era industrial?
Sim, mas há um inevitável grau de arbitrariedade em torno da definição de “pré-industrial”. Como há muitas incertezas sobre as temperaturas e as emissões nesse período, o IPCC acaba se fiando nos dados mais seguros, do registro instrumental, que começa quase um século depois que os humanos passaram a emitir carbono pela queima de combustíveis fósseis.
Mas se há tanta incerteza sobre a linha de base, as próprias metas de clima podem estar subestimadas, não?
Sim. Quando a Convenção do Clima da ONU foi assinada, em 1992, seu objetivo era evitar a “interferência perigosa” da humanidade no sistema climático, só que isso nunca foi traduzido numa meta de temperatura. Os 2ºC foram uma invenção europeia, baseada em muito poucos dados e incorporada ao fracassado Acordo de Copenhague em 2009, que Paris herdou.
Só que já naquela época os países insulares já diziam que 2ºC de aquecimento era um limite frouxo demais e que os condenaria à extinção: o degelo polar descontrolado já havia acontecido no passado com aquecimento de apenas 1ºC e elevando em vários metros o nível do mar. As ilhas vinham defendendo um teto de 1,5ºC, incluído lateralmente e após muita insistência no Acordo de Paris como uma espécie de “depois a gente compra” (a promessa no texto do acordo é “envidar esforços” para manter o aquecimento nesse limite). Países ricos e emergentes nunca aceitaram a meta de 1,5ºC porque reconhecê-la forçaria também a reconhecer o óbvio: os cortes de emissão de carbono para salvar a humanidade de um colapso climático teriam de ser muito mais radicais do que o que o G20 estava disposto a aceitar.
Foi apenas em 2018, com o relatório especial SR15, do IPCC, que o limite de 1,5ºC foi sacramentado como a meta a perseguir em Paris – e, mesmo assim, sob protesto de países como a China, que até pouco tempo atrás diziam que assumir o 1,5ºC seria “renegociar” o tratado. Na década transcorrida entre a conferência de Copenhague e o relatório do IPCC, a humanidade jogou mais CO2 na atmosfera do que em qualquer outro período da história.
Mas e se as esponjas estiverem certas, o que isso significa para a luta contra a crise do clima?
No último ano, um racha na comunidade científica ganhou força em torno do debate sobre se o aquecimento global está acelerando ou não. Cientistas como o americano James Hansen, um dos pioneiros da ciência climática, afirmam que a aceleração é real e que a Terra em breve estará ultrapassando os 2oC de aquecimento sem nem ficar muito tempo em 1,5ºC. Outros, como o também americano Michael Mann, da Universidade da Pensilvânia, não veem sinais de aceleração. Os dados das esponjas do Caribe parecem favorecer os “aceleracionistas”. Eles significam que será preciso muito mais esforço e muito mais urgência no corte de emissões se quisermos evitar que os impactos do aquecimento da Terra se tornem impossíveis de administrar. A meta de zerar emissões líquidas em 2050 possivelmente precisará ser antecipada.
No entanto, para efeitos práticos, a humanidade precisa agir como se a meta de Paris já estivesse perdida. Os efeitos da crise do clima estão fora de controle, como mostraram os 41ºC na Patagônia, as tempestades de janeiro no Rio, a epidemia de dengue no Brasil e as mais de 120 mortes nos incêndios do Chile, só para ficar na América do Sul e nos extremos deste ano. As ações de adaptação e o financiamento às perdas e danos climáticos nos países vulneráveis não podem mais esperar.[:][:][:]