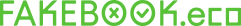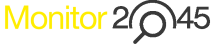Dá para acreditar nas metas do Brasil?
O plano climático submetido para a conferência de Paris tem baixa ambição e é pouco crível, considerando o avanço modesto da política nacional de clima, argumentam especialistas em relações internacionais da UnB
EDUARDO VIOLA
LARISSA BASSO
ESPECIAL PARA O OC
A credibilidade das Contribuições Nacionalmente Determinadas Pretendidas (INDCs) de todos os países é medida em relação a três dimensões: a implementação das políticas e medidas para o pré-2020 submetidas ao Acordo de Copenhague, em janeiro de 2010; a trajetória recente das políticas públicas relacionadas à mudança do clima; e, a organicidade da formulação do INDC na respectiva sociedade. O objetivo deste artigo é analisar a INDC brasileira. Ao final, traçamos também um brevíssimo panorama geral sobre a ambição e credibilidade das INDCs dos países-chave para o avanço das negociações climáticas, de modo a prospectar o que se pode esperar do regime no futuro próximo.
A INDC brasileira foi divulgada pelo governo federal no último 27 de setembro. Em geral, ela tem sido celebrada como sinal de comprometimento do Brasil com o tema da mudança do clima. O compromisso brasileiro de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), em relação aos níveis de 2005, em 37% até 2025 e 43% até 2030, é um avanço e está muito mais de acordo com a posição do Brasil no ciclo global do carbono do que os compromissos e os discursos que vinham sendo feitos até então. Ao contrário do que o texto da INDC informa, porém, a meta não é ambiciosa, nem representa um avanço real do Brasil na direção da emergente economia global de baixo carbono. Isso porque o histórico brasileiro de implementação de metas de redução de emissões é ruim e a evolução recente das políticas nacionais nos diversos setores que contribuem para a mudança do clima vai no sentido oposto ao da descarbonização.
Em 2009, o Brasil apresentou o compromisso voluntário de reduzir, até 2020, as emissões brasileiras de gases de efeito estufa de 36.1% a 38.9% em relação aos níveis da projetada curva de crescimento das emissões (business as usual). Esse compromisso, fraco,[1] tem implementação diretamente relacionada à Lei 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). A PNMC previu ações em diferentes setores para mitigar a mudança do clima. Muitas delas ainda estão em fase de elaboração. Entre as já especificadas estão: reduzir o desmatamento; implementar a agricultura de baixo carbono; manter elevada a participação de energia renovável na matriz elétrica, aumentar a eficiência energética, fomentar o aumento da participação de biocombustíveis. Apesar das metas, muito pouco mudou desde a PNMC e retrocessos importantes ocorreram.
O maior avanço ocorreu em relação ao desmatamento na Amazônia – quase nada se fez em relação ao Cerrado, porque a meta foi calculada de forma tão conservadora e com dados tão defasados que ela já havia sido cumprida na data do anúncio. De todas as medidas destacadas, reduzir o desmatamento na Amazônia é a de natureza política mais favorável: os grupos econômicos com interesse em desmatar são pequenos em relação ao conjunto do empresariado e ficaram numa relação crescentemente desfavorável contra a vasta coalisão nacional e transnacional que se formou contra o desmatamento. Ainda assim, a redução do desmatamento exige o enfrentamento dos interesses desses grupos de forma consistente e contínua. Isso ocorreu principalmente durante os mandatos de Marina Silva e Celso Minc no Ministério do Meio Ambiente e antes da edição da PNMC: de uma média de 27.000 km2 anuais desmatados em 2004, em 2009 eles foram 7.500 km2 anuais.[2] Entre 2010 e 2012, na vigência da lei, o desmatamento continuou a cair, mas a taxas mais lentas;[3] em 2013, no entanto, apesar de seguir com níveis extraordinariamente mais baixos do que os registrados na primeira metade dos anos 2000, o desmatamento voltou a aumentar em relação a 2012; em 2014 caiu em relação a 2013; em 2015, está aumentando significativamente. Não há quaisquer vantagens no aumento do desmatamento para a sociedade brasileira; no entanto ele segue como uma das principais fontes de emissões de gases estufa no Brasil.[4]
Implementar um sistema agrícola de baixo carbono é outra das metas, relevante em si e em razão do papel do país no mercado mundial de commodities agrícolas. No entanto, segue a passos lentíssimos. Um sistema agrícola de baixo carbono requer mudanças nas práticas que são responsáveis por emissões de gases de efeito estufa pelo setor, como, por exemplo, as medidas descritas no Plano ABC:[5] recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais, sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamento de dejetos animais. Entre as barreiras para a implementação mais rápida e efetiva dessas medidas estão: a escassez de recursos, visto que as linhas de crédito do BNDES não são suficientes para atender a todos os produtores e seus requisitos de concessão são, muitas vezes, impeditivos para os produtores menores; a concentração de recursos em determinadas atividades, especialmente a recuperação de pastagens, em comparação com as demais; a falta de capacitação dos produtores rurais e assistência técnica para as novas práticas. As incertezas legais, como as mudanças no Código Florestal e de zoneamento de áreas rurais, a morosidade das certificações e a dificuldade de muitos estados em regularizar propriedade fundiária e fiscalizar seu uso também compõem entraves que precisam ser enfrentados.
Mas os maiores retrocessos têm ocorrido no setor energético. A PNMC almeja manter elevada a participação de energia renovável na matriz elétrica, aumentar a eficiência energética e fomentar o aumento da participação de biocombustíveis, e o que tem acontecido é o oposto. E a situação é especialmente preocupante porque há evidência do forte aumento da relevância das emissões do setor energético em relação ao total das emissões de gases estufa brasileiros.
A matriz elétrica brasileira tem importante participação de fontes de baixo carbono, em especial a hidroeletricidade. No entanto, nos últimos anos a hidroeletricidade tem perdido espaço, em especial os combustíveis fósseis: se em 2009 as hidrelétricas geraram 83,9% do total da eletricidade consumida no Brasil, em 2013 participaram com apenas 68,6%.[6] O aumento de 22% na oferta de eletricidade no período foi suprido, principalmente, por gás natural, derivados de petróleo e carvão mineral, que, em conjunto, passaram de 6,7% de participação na matriz elétrica em 2009 para 18,6% em 2013. É importante destacar o avanço expressivo da energia eólica na matriz elétrica, com aumento da participação em 430% no período – ainda assim, com apenas 1,2% do total gerado em 2013. Em 2013 houve também o primeiro leilão para venda de energia solar fotovoltaica, que entrará na matriz elétrica a partir de 2017 – um enorme atraso, que impedirá os ganhos tecnológicos e de escala que poderiam ter ocorrido se a fonte tivesse sido incluída no Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), em 2002.
No setor de combustíveis e indústria automobilística, o retrocesso tem sido ainda maior. Entre 2006 e 2013, o governo federal adotou como política anticíclica o subsídio ao preço dos combustíveis e a isenção de impostos para a compra de automóveis. O resultado foi desastroso: um enorme prejuízo financeiro à Petrobras, obrigada a vender os insumos no Brasil a preços mais baixos do que os internacionais; a forte erosão da indústria de etanol, incapaz de competir com os preços subsidiados da gasolina e diesel; e um enorme aumento da frota de automóveis, exatamente o contrário do necessário para o desenvolvimento de baixo carbono, centrado em transporte público de qualidade. Não houve avanços em eficiência energética.[7] Parâmetros de eficiência energética de automóveis enfrentam resistência das multinacionais do setor: são vendidos no Brasil, pelas mesmas montadoras que em seus mercados de origem aceitam padrões altos de eficiência energética, modelos muito pouco eficientes. Diante da dependência do governo federal em relação às montadoras para manter níveis de produção e emprego (fato, em muito, agravado no período da política anticíclica), e do apoio da cadeia de autopeças, dos revendedores de automóveis e dos sindicatos de trabalhadores da indústria automobilística, não se vislumbram avanços de eficiência energética para o setor. A elevação desses padrões, porém, de modo que as montadoras ao menos repitam no Brasil o que fazem nas matrizes, é chave para a descarbonização.
Além das metas de redução emissões de GEE, a INDC submetida pelo Brasil à Convenção do Clima da ONU vem acompanhada de um detalhamento de objetivos para setores específicos – reiterando que o faz com o objetivo de esclarecer o compromisso brasileiro apenas: (a) aumentar a parcela de biocombustíveis no mix energético brasileiro para aproximadamente 18% do total; (b) alcançar o desmatamento ilegal zero na Amazônia, assim como a compensação pela supressão legal de vegetação, até 2030; (c) alcançar 45% de energia renovável na matriz brasileira, expandindo as novas fontes renováveis (eólica, solar e biomassa) para entre 28% e 33% do total da matriz energética, a parcela de geração de eletricidade pelas mesmas novas renováveis para pelo menos 23% do total e obtendo 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico; (d) restaurar 15 milhões de hectares de pastos degradados e integrar pelo menos 5 milhões de hectares ao sistema lavoura-pecuária-floresta; (e) implementar novos padrões de tecnologia limpa e eficiência energética para a indústria, assim como infraestrutura de baixo carbono; (f) aumentar os ganhos de eficiência nos transportes, melhorar a infraestrutura do setor e o transporte público nas áreas urbanas. São ações em setores que já haviam sido contemplados pela PNMC e em grande parte ainda carecem de implementação. Além disso, vários desses objetivos estão longe de serem ambiciosos, como pretende o texto.
Aumentar a parcela de biocombustíveis no mix energético brasileiro para aproximadamente 18% do total não é ambicioso porque, em 2014, a participação da bioenergia (etanol e biodiesel) na matriz ficou em 17,6% (MME, 2015, p. 25). Alcançar 45% de energia renovável na matriz brasileira não é desafiador quando a parcela das renováveis foi em média 43,64% entre 2004 e 2014 e em média 45,32% entre 2004 e 2009 (EPE, 2015, p. 24). A produção de energia por meio das fontes eólica, solar e biomassa alcançou 27,9% do total da matriz energética brasileira em 2014 (MME, 2015, p. 20; EPE, 2015, p. 24), portanto aumentar sua proporção para entre 28% e 33% do total da matriz energética ou 23% do total de produção de eletricidade até 2030 é bastante conservador. Ao estabelecer esse baixo grau de ambição na participação de energia de baixo carbono na matriz brasileira, o governo deixa espaço para a ampliação da parcela de energias fósseis, exatamente o que vem acontecendo nos últimos anos. Esse é, portanto, um sinal de retrocesso, não de avanço.
A meta para agropecuária é boa, mas ante a lentíssima implementação da agricultura de baixo carbono no Brasil – e a clara prioridade dada à agricultura convencional na concessão de crédito –, não é possível antever seu cumprimento. Os objetivos para a indústrias e os transportes são muito vagos, e o histórico recente não é animador. A INDC não cita as emissões do setor de resíduos, que tendem a aumentar se a lei de resíduos sólidos passar a ser, finalmente, sistematicamente implementada. Mas o sinal mais negativo vem da meta para desmatamento: falar em 2030 como marco para zerar o desmatamento ilegal apenas na Amazônia e para compensar as emissões pela supressão autorizada de vegetação é lamentável quando nunca antes as condições gerais de implantação do estado de direito foram tão favoráveis. A população brasileira está majoritariamente a favor da luta contra a corrupção e a ilegalidade, manifestando-se em diversas ocasiões, em especial em apoio à atuação do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal na operação Lava-Jato. Nesse contexto, a luta contra o crime de desmatamento deveria ser muito mais dura.
Em suma, a INDC brasileira tem baixa ambição e é pouco crível, tendo em vista o pouco avanço da implementação do Acordo de Copenhague e da PNMC. Essa falta de sincronia entre a INDC e a evolução recente da política nacional na implementação de ações de redução de emissões de GEE aponta para a INDC muito mais como tentativa de construção de uma agenda positiva por parte de um governo em crise do que um compromisso real com a descarbonização da economia brasileira. O modo como a INDC foi elaborada corrobora com essa conclusão: se em um primeiro momento houve participação da a sociedade civil, empresariado e comunidade acadêmica por meio de consultas – grande avanço em relação a momentos anteriores, em que sequer essa fase ocorria –, o texto final foi desconhecido do público até o momento de sua divulgação. Contudo, mesmo que a participação tivesse sigo assegurada até o resultado final, é provável que a INDC tivesse tido conteúdo similar ao que tem, devido ao predomínio dos setores conservadores no empresariado e em expoentes da sociedade civil.
A comparação da INDC brasileira com a de outros países revela similaridades e diferenças. A INDC dos EUA é de baixa ambição é de média credibilidade: o compromisso de Copenhague está sendo implementado, a trajetória das políticas climáticas recentes vai na direção de uma lenta e gradual descarbonização, mas enfrente forte oposição no Congresso e seria seriamente minada no caso da vitória de um candidato republicano nas eleições presidenciais de 2016. A INDC da União Europeia é de alta ambição e alta credibilidade devido à capacidade de liderança climática de Alemanha, Reino Unido, França e escandinavos, embora possa ser desafiada pelo desempenho de países conservadores do leste europeu. A INDC da China é de baixa ambição e alta credibilidade devido à implementação compromisso de Copenhague, à trajetória recente das políticas climáticas e à sinergia entre o vasto movimento social contra a poluição na China e várias medidas descarbonizantes, como a mudança de tecnologia das termoelétricas e a promoção de energias renováveis e nuclear. A INDC da Índia tem baixíssima ambição e certa credibilidade derivada da extrema pobreza da ambição. A INDC da Rússia é de baixa ambição e baixa credibilidade devido à baixíssima preocupação com a mudança climática na população e nas elites russas. A INDC do Japão é de baixíssima ambição – um forte retrocesso em relação à posição do país em Kyoto (1997) e em Copenhague (2010) – e baixa credibilidade devido a extremamente arbitrária mudança do ano base, de 1990 para 2013.
O problema climático é o grande desafio das relações internacionais contemporâneas. Mitigá-lo requer ações consistentes e coerentes no médio e no longo prazos, uma transformação da trajetória da economia global para o baixo carbono. O sistema internacional, no entanto, reluta em mudar sua trajetória, e os bárbaros atentados de 13 de novembro em Paris diminuem as perspectivas de ascensão do tema na agenda internacional, tendo em vista a forte correlação que tem sido observada entre o agravamento de problemas de segurança internacional e a marginalização, ainda maior, da problemática climática. Aos atentados de 11 de setembro de 2001 seguiram-se apenas ações de curto prazo – guerra ao terrorismo, invasão do Afeganistão e do Iraque – em detrimento da inclusão de medidas de longo prazo – promoção de energias renováveis para diminuir a importância estratégica em relação ao Oriente Médio ou questionamento do hiperconsumismo como fundamento de legitimidade do sistema capitalista. E isso tendo vasto conhecimento de que o problema climático somente será resolvido com a implementação das últimas. O Estado Islâmico tem crescido extraordinariamente desde 2014: capacidade de mostrar-se como uma alternativa (mal menor) à humilhação sofrida para um setor dos sunitas iraquianos e sírios – derivada do sectarismo e brutalidade repressiva dos regimes de Bagdá e Damasco -; consolidação de um território e população sob controle; alta capacidade de recrutamento de jovens ocidentais – fortemente ressentidos, sem sentido para suas vidas ou associados ao crime comum – utilizando as mais modernas tecnologias de redes sociais e imagem; e capacidade de projetar pânico e terror muito além do território controlado. As elites dos países ocidentais têm tido imensa dificuldade para compreender o fenômeno do Estado Islâmico e, consequentemente, têm minimizado a ameaça e cometido muitos erros nas estratégias de inteligência e contraterrorismo.
Além dos efeitos sobre as negociações climáticas, os atentados de Paris podem ter impactos negativos significativos sobre a questão dos refugiados, agravando a já difícil situação das centenas de milhares de sírios que fogem da brutalidade de seu governo e do Estado Islâmico. Sem dúvida, a ação do Estado Islâmico requer uma incisiva resposta política, militar e comunicacional de uma vasta coalizão internacional dos principais países diretamente ameaçados pelo Estado Islâmico – que envolva forças de EUA, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, Rússia, Turquia, Jordânia, Líbano, Iraque, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait e Irã. Contudo é fundamental compreender que as tropas terrestres combatentes somente poderiam ser dos países árabes, Curdistão, Turquia e Irã, já que a presença de tropas ocidentais ou russas daria extraordinário fôlego à narrativa do Estado Islâmico sobre a guerra santa. É também fundamental o sucesso da estratégia definida na Conferência de Viena de 14 de novembro de 2015: cessar-fogo e acordo político de transição com eleições em 18 meses entre as partes envolvidas na guerra civil síria, excluídos o Estado Islâmico e a frente Al Nusra ligada a Al-Qaeda. A transição democrática poderia ter sido alcançada caso o governo sírio tivesse aceitado negociar uma transição pactuada após as manifestações democratizantes de 2011, e não partido para a repressão brutal que resulta na atual sangrenta guerra civil. No entanto, é preciso lembrar que a situação da população foi agravada por uma seca intensa e prolongada durante vários anos, que levou centenas de milhares de agricultores a migrar para cidades e aumentou significativamente o preço dos alimentos. Ameaçados pela guerra e pela fome, avolumam-se em busca de refúgio, e, ante a respostas simplistas que não percebem efeitos de longo prazo, tendem a encontrar, cada vez mais, as portas fechadas ao seu pedido.
A humanidade precisa refletir sobre o longo prazo de suas ações e enveredar, finalmente, na transformação necessária para alterar o curso em que se encontra. No Brasil, é preciso refletir sobre o descompasso entre a longa tradição de clientelismo e patrimonialismo no governo e as demandas mais amplas da sociedade, e começar a formar novas bases para a política nacional. No mundo, é preciso entender as ligações entre os problemas e dar a centralidade necessária à questão climática. Economia política internacional, segurança internacional e mudança climática estão profundamente interligadas e podem ser tratadas em conjunto sob o título Segurança Planetária. Sem mudanças, enfrentaremos, cada vez mais, dor, que atingirá a todos, ainda que em escalas diversas; muito mais pessoas serão vitimadas. Avançar na direção da segurança planetária passa pelo aumento do diálogo em Paris e na construção de mais, e não menos, governança global.
Eduardo Viola é professor titular do Instituto de Relações Internacionais e coordenador do grupo de pesquisa Mudança do Clima e Relações Internacionais no Antropoceno, da Universidade de Brasília
Larissa Basso é doutoranda no Instituto de Relações Internacionais e membro do grupo de pesquisa Mudança do Clima e Relações Internacionais no Antropoceno, da Universidade de Brasília
————————————————————————————————————————-
[1] O compromisso foi calculado em relação à projetada curva de crescimento de emissões brasileiras. Nesse sentido, foi calculado quanto somariam as emissões brasileiras em 2020, tendo por base o aumento do PIB. Ocorre que esse aumento do PIB foi colocado em patamares altos, ou seja, a meta foi “inflacionada” de início. Por isso, se calculada em relação às reais emissões de 2009-2010, a meta de redução representava, na verdade, um aumento.
[2] Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), <http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2014.htm>, acesso 14 Nov 2015.
[3] Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), <http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2014.htm>, acesso 14 Mar 2015.
[4] Em 2014, o desmatamento emitiu 486 milhões de toneladas de CO2, em empate técnico com energia, que emitiu 479 milhões de toneladas, segundo dados do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), da rede de ONGs Observatório do Clima <http://www.seeg.eco.br/emissoes-totais/>, acesso 19 Nov 2015.
[5] Texto disponível em <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80076/Plano_ABC_VERSAO_FINAL_13jan2012.pdf>, acesso 14 Nov 2015.
[6] Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Balanço Energético Nacional (BEN), séries completas, disponível em < https://ben.epe.gov.br/BENSeriesCompletas.aspx>, acesso 14 Mar 2015.
[7] Houve avanços de pequeno impacto no total de emissões: parâmetros e certificações nacionais em relação a aparelhos de uso doméstico e eletroeletrônicos. Ainda assim, muito pouco, perto do potencial.